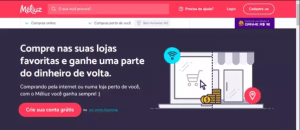Há poucas décadas, na sociedade brasileira, a palavra “desquitada” era mais do que um estado civil; era um carimbo de vergonha, um estigma que marcava a mulher para o resto de sua vida. O fim de um casamento era um escândalo familiar, um fracasso pessoal a ser escondido sob o tapete das convenções sociais. Avançando para os dias de hoje, vemos o divórcio estampado em estatísticas crescentes e presente na biografia de amigos, celebridades e familiares. A percepção mudou drasticamente, mas será que o estigma social do divórcio realmente desapareceu ou ele apenas se transformou, assumindo formas mais sutis e, por vezes, internalizadas? Uma análise dessa jornada revela tanto sobre a evolução de nossas leis quanto sobre as transformações de nossa própria mentalidade.
Para entender o presente, é preciso olhar para o passado. Até 1977, o casamento no Brasil era, na prática, indissolúvel. A única opção era o “desquite”, uma figura jurídica que encerrava a sociedade conjugal, mas não o vínculo matrimonial, impedindo um novo casamento. O processo era litigioso, caro e, fundamentalmente, baseado na busca por um “culpado”. Nesse cenário, fortemente influenciado por uma moral religiosa conservadora, a aprovação da Lei do Divórcio, em 1977, representou uma verdadeira revolução legislativa e cultural, uma batalha árdua que simbolizou a vitória da autonomia individual sobre a rigidez de uma instituição que não mais servia aos anseios de felicidade de muitos cidadãos. Foi o primeiro passo para dissociar o fim de um casamento da ideia de pecado ou transgressão.
Historicamente, o fardo desse estigma recaiu de forma desproporcional sobre os ombros da mulher. Em uma sociedade patriarcal que a definia primariamente por seu papel de esposa e mãe, a mulher divorciada era vista como a personificação do fracasso. Era a “desquitada”, a “separada”, a “largada”. Sofria com o isolamento social, era vista com desconfiança por outras mulheres casadas e enfrentava barreiras no mercado de trabalho e, principalmente, no afetivo. Este estigma de gênero era uma poderosa ferramenta de controle social, que acorrentava muitas mulheres a casamentos infelizes pelo medo da condenação pública e da solidão imposta. A luta pelo direito ao divórcio foi, portanto, uma faceta importante da luta pela emancipação feminina.
A gradual normalização do divórcio foi impulsionada por uma série de fatores sociais e legais. A crescente independência financeira da mulher deu a ela a liberdade de não mais se submeter a uma relação por pura necessidade econômica. A cultura pop, através de novelas, filmes e séries, começou a retratar personagens divorciados que recomeçavam suas vidas e encontravam a felicidade, ajudando a construir um novo imaginário social. Legalmente, a Emenda Constitucional 66/2010, que instituiu o divórcio direto e imotivado, foi o golpe de misericórdia no estigma, transformando o que era um drama judicial de culpa em um procedimento mais simples e direto, um exercício de um direito. A massificação da experiência – quase todo mundo hoje conhece alguém que se divorciou – ajudou a retirar o véu do tabu.
E hoje? O estigma aberto, agressivo e excludente praticamente desapareceu na maioria dos círculos urbanos e seculares. Ninguém mais é apontado na rua por ser divorciado. No entanto, ele sobrevive de formas mais sutis. Pode se manifestar na autocobrança e no sentimento de fracasso pessoal que muitos ainda sentem. Pode aparecer na pressão de familiares mais velhos ou na desaprovação de comunidades religiosas mais conservadoras. O estigma hoje talvez seja menos uma condenação social externa e mais um desafio psicológico interno, uma batalha contra a sensação de não ter cumprido um “script” social idealizado. A jornada, portanto, não terminou. Passamos da luta pelo direito de se divorciar para a luta pelo direito de recomeçar sem culpas, sem rótulos e com a dignidade plena de quem teve a coragem de buscar a própria felicidade.